A guerra Civil Farroupilha e a formação mítica da identidade gaúcha
- Jussara Prates

- 12 de set. de 2020
- 8 min de leitura
Atualizado: 26 de mar. de 2025
A temática da Guerra Civil Farroupilha é instigante, volumosa e sempre rende boas discussões e debates, especialmente neste período de setembro. Cercada de mitos e interpretações controversas é um dos temas mais pesquisados na história do Brasil e está muito longe de esgotar-se. Uma guerra civil, vencida pelos imperiais, largamente comemorada pelos gaúchos, pelo menos por aqueles que acreditam terem "vencido a guerra, ou pior terem feito uma "revolução", desencadeada pela defesa de interesses de grandes estancieiros, charqueadores, comerciantes e representantes da cúpula militar rio-grandense.

Alegoria, Sentido e Espírito da República Farroupilha (1926)
Hélios Seelinger
Uma revolta, rebelada pela elite pecuarista/charqueadora e burguesa, característica, que a difere de outras revoltas e insurreições ocorridas no país, que inspira contínuos estudos cujas publicações dos últimos anos têm trazido à luz novos dados e interpretações e têm promovido muitos questionamentos.

“Num passado não muito distante, grandes homens construíram o Brasil com a força das suas mãos, com a energia dos seus ideais e com o sangue que aceitaram verter em campos, rios, sertões e matas em nome do futuro e da pátria. Esses homens saíram da História para entrar no mito. Hoje, brilham em livros escolares ou figuram em placas de ruas. Quem foram esses homens? O que fizeram? Foram somente heróis? E se tivessem sido também infames personagens de uma época cruenta em que o futuro se fazia a golpes de preconceitos, de lança e de balas de canhão?”. (Juremir Machado da Silva).

Charqueada no Rio Grande.
Aquarela sobre papel (24,4 x 40,4 cm) de Jean-Baptiste Debret. Domínio público, Museus Castro Maya.
Inicialmente, "para compreender a complexidade da guerra dos farrapos deve-se ter em mente o entendimento acerca das fases pelas quais passou o movimento, das diferenças de pensamento e interesses entre suas lideranças e comparar as reivindicações iniciais com os ganhos reais atingidos na Paz de Ponche Verde.
O primeiro momento se caracteriza pela formação do conflito, o segundo com a vitória do General Antônio de Sousa Neto, no Arroio do Seival, que culminou com a proclamação da República Rio-Grandense dando um caráter separatista ao movimento. ” (Laura de Leão Dorneles). A última fase se inicia após as reuniões da Assembleia Constituinte, em 1842, quando ficaram nítidas as divergências entre os líderes farroupilhas.
Durante o movimento, dois projetos políticos foram apresentados: O da “maioria” que, além de interesses pessoais, discutia a abolição da escravatura, desejava a forma de governo republicana e uma interação latino-americana (tendo como principais integrantes Bento Gonçalves, Domingos José de Almeida, José Mariano de Mattos, Antônio de Souza Neto, Ulhoa Cintra e José Gomes Portinho); E o da “minoria”, que desejava melhorias pessoais dentro do próprio sistema, sem grandes preocupações com o modelo político e econômico. (Vicente da Fontoura, David Canabarro e Onofre Pires).
Independentemente do “lado” ao qual se colocaram esses líderes, não houve uma prática do movimento com o intuito de preocupar-se com a distribuição de renda ou inserção das massas populares nas esferas governamentais, ou seja seus intentos foram sempre direcionados aos seus interesses económico, ganhos políticos, de influência e de manutenção da ordem social vigente.

Escravo negro conduzindo tropas no Rio Grande.
Aquarela sobre papel de Jean-Baptiste Debret. Domínio público, Museus Castro Maya
“A partir de 1841-42, o poder de direção da Guerra foi para as mãos de Canabarro, o que acabou culminando no Acordo de Ponche Verde. As cláusulas da pacificação que foram assinadas pelos farroupilhas, mas não pelos imperiais, deveria anistiar todos aqueles que lutaram pela causa farrapa, pagar as dívidas dos revoltosos, declarar livres os escravos que haviam servido nas fileiras republicanas, dispensar de recrutamento os soldados farrapos, manter as mesmas patentes dos revoltosos, exceto os generais, dentre outros. Boa parte das cláusulas de Ponche Verde soou em benefício das lideranças farroupilhas, e não aos que lutaram em suas trincheiras. ” (Laura de leão Dornelles).
O destino da grande parte dos escravos, que ainda estavam vivos após o massacre em Cerro dos Porongos, também não foi o da liberdade. “Foi necessário amarrar os negros e transportá-los para um lugar de onde, presos, pudessem ser despachados imediatamente a fim de evitar o pânico entre eles. A Corte ordenou que todos fossem levados para o Rio de Janeiro”. (Spencer Leitman). Financiou-se a guerra com a venda de negros e prometeu-se a liberdade aos que lutaram, especialmente os vindos do inimigo. Entre as inúmeras ambiguidades dessa guerra, vale lembrar que os farroupilhas lutaram sob o lema: “Liberdade, Igualdade e Humanidade”.

Escravo puxando a pelota, embarcação típica do Rio Grande, feita em couro, para travessia de rios.
Aquarela sobre papel de Jean-Baptiste Debret. Domínio público, Museus Castro Maya
Após o Acordo de Ponche Verde os líderes farroupilhas prosseguiram suas vidas no seio do sistema político monárquico, retomando suas antigas patentes, negócios e cargos, e outros foram delegados a novas funções públicas. “Os anos que se seguiram à revolta foram marcados por dois movimentos no discurso político: o silêncio e a suspeita. O primeiro produziu uma memória de arrependimento e justificativas. O segundo, um estado de alerta acompanhado de constantes reprimendas, em relação ao restante do Império. ” (Jocelito Zalla e Carla Menegat). “Quase todos os farroupilhas que um dia criticaram os principais chefes farroupilhas acabaram assassinados: Paulino da Fontoura e Onofre Pires - este num duelo, sem testemunhas, com Bento Gonçalves”. (Juremir Machado da Silva).
Havia interesses em manter no escuro a memória da guerra desde os seus motivos ilusórios até os seus efeitos funestos.

Carga de Cavalaria.
Guilherme Litran, óleo sobre tela, 1893. Acervo do Museu Júlio de Castilhos.
Com o passar do tempo surgiram diversas construções históricas e poéticas sobre a guerra. “A história dos povos é rica em manipulações e criações de toda a espécie que fazem parte da política cultural de determinada época”. (Moacyr Flores). Mais tarde, a possibilidade de escrever sobre a revolta foi aberta pela emergência de novas gerações políticas ávidas por constituir um discurso que legitimasse suas posições, essa geração transformava a apropriação de um símbolo, antes renegado ao esquecimento, em um estandarte idealizando os “valorosos farroupilhas”.
Lembrando que é um equívoco pensar a guerra sob o aspecto “revolucionário”. Afinal, os farroupilhas não obtiveram sucesso o Brasil manteve-se uma monarquia e o Rio Grande do Sul voltou a condição de província brasileira. Além disso, não ocorreram de fato rupturas significativas no âmbito das estruturas políticas, econômicas e sociais, como é o esperado de uma revolução.

A batalha do Fanfa
Óleo sobre tela de Oscar Pereira da Silva,
“A construção do mito do gaúcho surgiu com a literatura romântica do século XIX. É comum encontrar pessoas de diferentes etnias com indumentária gauchesca em danças coreografadas e falando uma linguagem com sotaque característico da Campanha sul-rio-grandense e platina. Por que essa dissonância? Estão conscientes da origem do gaúcho histórico e da gênese do gaúcho mítico?
O mito não é uma mentira, nem uma falsidade, é uma interpretação da realidade. Refere-se a uma existência histórica, pois ninguém consegue falar ou escrever sobre uma coisa que não existiu. Assim, a construção do gaúcho mítico partiu do real e se tornou plausível com referenciais históricos, formando no decorrer do tempo uma tradição de geração em geração. ” (Moacyr Flores).
Em pouco tempo, o mito confunde-se com a tradição, sendo aceito por todos porque a narrativa ou a poética gauchesca usa matizes sociológicas, como o trabalho campeiro, casos contados junto ao fogo de chão, camaradagem galponeira e recordações da turbulência de antigas revoluções e guerras de fronteira. O espaço histórico do gaúcho era o Pampa, mas a criação literária extrapolou o espaço original, colocando-o em zona onde ele nunca existiu.

Acampamento Farroupilha, Porto Alegre
“O regionalismo riograndense segue um modelo romântico que se caracteriza pelo personagem central chamado de monarca das coxilhas ou campeiro. Tendo como referência histórica a “Revolução Farroupilha”, a trama segue a trilha da vingança, os personagens sofrem pelo amor contrariado, o campo é sempre melhor que a cidade, o herói é bom e honesto, a natureza está presente com descrição de plantas, ilhas e rios, os personagens falam uma linguagem regional e popular para salientar o aspecto regional”. (Moacyr Flores).
“Em 1937, com o Estado Novo, as instituições regionalistas foram extintas em face da política nacionalista de Getúlio Vargas. Com a fundação do 35 CTG, em 1948, surgiu um novo ciclo gauchesco, o tradicionalismo, uma memória idealizada com elementos de folclore, da história e das lides campeiras, situada num passado impreciso e que busca sua autenticidade nas normas estabelecidas por grupo de dirigentes”. (Moacyr Flores).
Curiosamente, e provocando invisibilidades culturais e tradicionais, a produção literária tradicionalista é tida como "modelo" de nossa tradição, sendo adotada inclusive em escolas, difundindo modos de pensar e de agir, usando o mito do gaúcho como símbolo da identidade do Rio Grande do Sul, transformando em espetáculos gauchescos as manifestações culturais de diferentes etnias, onde conjugam uma tradição idealizada em detrimento do folclore e tradições locais.

Obviamente que o tradicionalismo gauchesco tem função cultural, mas não traduz a diversidade étnica e cultural que fazem dos sul-rio-grandenses um rico e efervescente mosaico humano, étnico e cultural.
É imprescindível compreender, ensinar e estudar sobre o processo histórico, especialmente nas escolas, para além dos mitos e construções poéticas idealizadas.

É importante lembrar também, que o termo “farrapo”, que costuma causar algumas interpretações equivocadas, se relaciona a uma das facções políticas do Rio de Janeiro, os Liberais Exaltados (farroupilhas), em oposição às outras duas facções que eram os Monarquistas ou Restauradores (caramurus) e aos Liberais Moderados (chimangos). A ideia de que os rio-grandenses lutavam “esfarrapados”, foi somente mais uma das construções que visa transformar uma guerra civil, protagonizada por personagens da elite sul-rio-grandense, numa luta popular disseminando a erroneamente a ideia de uma "revolução".
Não podemos deixar às brumas do esquecimento o fato histórico, o ensino crítico e a contribuição das demais culturas e expressões existentes na formação sociocultural do estado do Rio Grande do Sul.
* Jussara Prates é escritora, pesquisadora e produtora cultural, transita em diversas áreas da cultura com obras publicadas sobre educação, projetos escolares, educação antirracista, história, história de municípios, literatura, diversidade e educação para o patrimônio. Ativista pela democratização e acesso a cultura é defensora da educação para o patrimônio como forma de valorização e apropriação do patrimônio cultural como elementos geradores de cidadania e identidades. Foi membra do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio do Rio Grande do Sul, trabalhou na área da Gestão da Cultura, foi uma das idealizadoras e Diretora do Museu e Arquivo Municipal de Portão. Coordenadora dos processos de tombamento do primeiro Patrimônio Natural, o Pinheiro Multissecular e do primeiro Registro de Patrimônio Imaterial, o Festival Internacional de Folclore e uma das Curadoras do Memorial Histórico do Parque do Imigrante, todos em Nova Petrópolis/RS. Foi Diretora de Cultura e Secretária Adjunta de Educação, Cultura e Desporto de Nova Petrópolis. É Conselheira de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, participou como conselheira da 6ª Conferência Estadual de Cultura e representou o CEC/RS na 4ª Conferência Nacional de Cultura em Brasília, atuando ativamente na construção da Política Nacional de Cultura. Atualmente exerce a função de secretária da Diretiva do Conselho Estadual de Cultura/RS.
**Historiadora, Bióloga, Conservadora e Restauradora de Acervos, Pós -graduada em Gestão de Arquivos; Supervisão Educacional; Coordenação Pedagógica; Ecologia e Desenvolvimento Sustentável; Botânica; Zoologia e Diversidade, Cultura e Etnicidade
Saiba mais:
Laura de Leão Dornelles. Guerra Farroupilha: considerações acerca das tensões internas, reivindicações e ganhos reais do decênio revoltoso.
Machado, Juremir. A história Regional da Infâmia. Editora LPM, 2011.
Flores, Moacyr. Gaúcho: História e Mito. Edições EST, Porto Alegre, 2007.
Guerra Farroupilha: movimento civil de quase uma década
Jocelito Zalla; Carla Menegat
História e memória da Revolução Farroupilha: breve genealogia do mito
Fontes das Imagens:







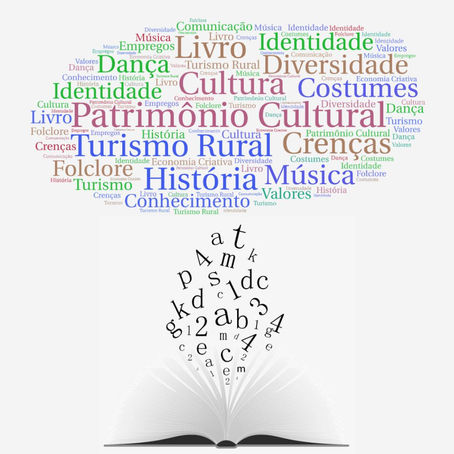




Comentários